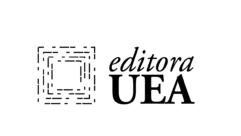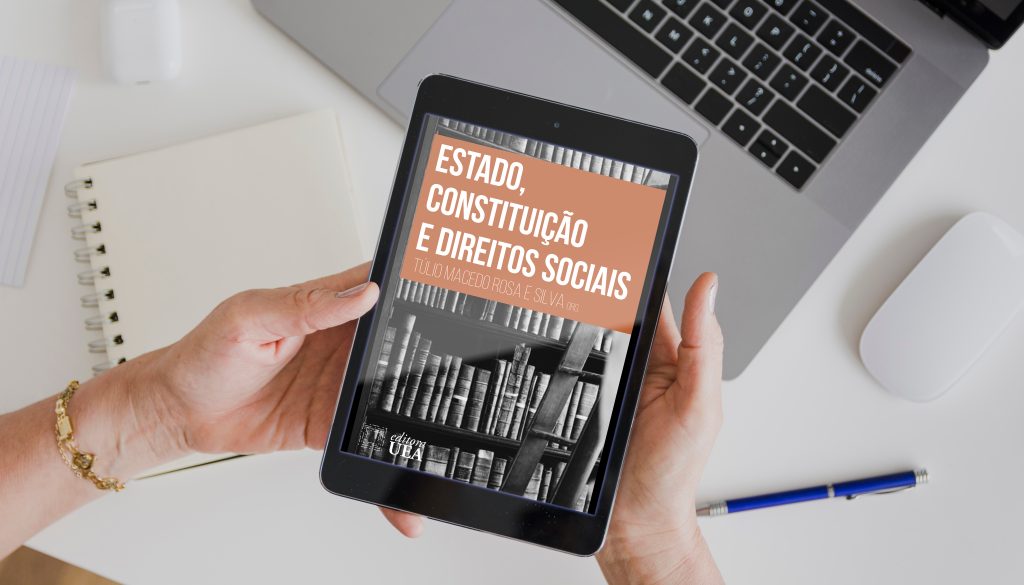No mês de janeiro, a Editora UEA seleciona como indicação do mês o livro Uma nau que me carrega: rotas da literariedade em língua portuguesa, de Mário César Lugarinho. Publicada em 2013, a obra foi financiada pelo Governo do Amazonas, com o apoio da FAPEAM, e apresenta uma análise complexa e refinada sobre a literariedade em língua portuguesa abordando o conceito através de perspectivas teóricas que desafiam a tradição. Com uma abordagem inovadora, Lugarinho dialoga com nomes como Walter Benjamin, Octavio Paz e Michel Foucault, fornecendo contribuições significativas para os estudos contemporâneos de literatura e teoria crítica no Brasil.
No prefácio intitulado Uma rota singular, Jorge Valentim, professor da UFSCar, relembra como conheceu Lugarinho em um evento sobre Literaturas Africanas de Língua Portuguesa, no início dos anos 2000. Ele destaca que a originalidade do autor reside em sua recusa à divisão tradicional dos gêneros literários. Essa perspectiva permite que Lugarinho explore as dinâmicas discursivas da poesia e da história, fundamentando sua análise no conceito de literariedade formulado pelos formalistas russos e em teorias modernas de discurso, como exposto, em seguida, na seção de apresentação do livro.
O primeiro capítulo, Sobre poesia e História, analisa a transformação do discurso lírico através do tempo. A poesia moderna desafia tradições, ampliando suas possibilidades estéticas e discursivas. Lugarinho explora como o discurso literário é moldado por relações entre língua, ideologia e memória, abordando a importância do mito e da Memória, personificada em Mnemosyne, na constituição cultural dos povos. Referências a Octavio Paz e Nietzsche enriquecem a discussão sobre a objetivação do sujeito lírico no texto poético, que reflete tanto a experiência individual quanto o contexto social e histórico.
Em O fantasma da História: a literatura cria o Império, discute-se como o regime salazarista utilizou uma dominação de caráter carismático, conforme as classificações de Max Weber, para justificar o Estado fascista. Esse sistema político se contrapunha a qualquer vinculação com ideias liberais, reforçando um culto à heroicidade e à santidade do líder. Nesse contexto, colônias, nação e regime foram amalgamados em um mito que a História dissolveria com o tempo. É nesse cenário que Manuel Alegre surge, aproveitando condições favoráveis para propor um discurso literário crítico, no qual a história torna-se urgente e o mito, uma degenerescência.
No capítulo Memória e herança do Estado Novo na obra poética de Manuel Alegre, destaca-se o papel da literatura em resgatar a memória histórica. A partir das ideias de Walter Benjamin, o texto sugere que a poesia de Manuel Alegre expõe as lacunas deixadas pelo Estado Novo, transformando as ruínas em obras de arte. A obra do poeta reflete sobre temas como o pacto nacional imposto pela Ditadura e as tensões sociais entre elites e camadas populares. Após o 25 de Abril, sua poesia se alinha a uma releitura crítica da história portuguesa, abordando questões como a guerra colonial, a descolonização e a construção da democracia.
Em seguida, o capítulo Um brasileiro nas terras de Portugal: o luso-tropicalismo e a “Política do Espírito” aborda a contribuição de Gilberto Freyre ao debate sobre o luso-tropicalismo e suas implicações para as relações coloniais. Freyre, em Casa-Grande & Senzala (1933), destacava uma interação cultural que aproximava os povos dos trópicos, mas sua análise foi reinterpretada de forma conveniente para legitimar a política colonial portuguesa. Essa leitura, porém, desconsiderava as diferenças históricas e diplomáticas entre Brasil e Portugal. Lugarinho aponta que revisitar as contribuições de Freyre, no final do século XX, torna-se essencial para evitar a perpetuação de uma amnésia histórica que ainda permeia a sociedade brasileira.
O estudo História, magia e desejo: a poesia de João Melo apresenta a relação entre tempo, subjetividade e literatura. O autor analisa como a poesia de Melo é um ato político, capaz de dialogar com a complexidade da modernidade e das transformações sociais, mediada pela memória. No poema “O aprendiz de kimbanda”, da antologia Poemas Angolanos (1989), Melo combina magia e política, mostrando como sua obra articula uma crítica histórica e cultural a partir da ação poética. Portanto, a modernidade busca integrar passado, presente e futuro, enquanto explora tensões históricas e estéticas.
Na pesquisa Depois das fronteiras perdidas: antropofagia e globalização é abordada a obra Fronteiras Perdidas (1999), que questiona a continuidade do projeto de identidade nacional na literatura angolana. Reconhecida como um discurso histórico, a literatura de Angola enfrentou dificuldades para abandonar a alegoria que sustentava um ideal nacionalista. O título sugere a dissolução das fronteiras culturais, provocando desconforto nos leitores habituados às convenções literárias nacionais. Ao mesmo tempo, expõe a permanência de jogos de poder e dominação no campo discursivo, demonstrando que, mesmo em um cenário globalizado, as tensões identitárias e políticas ainda persistem como desafios centrais.
Experiência e vivência: alguma literatura da era da globalização parte da poesia de Charles Baudelaire, revisitada por Walter Benjamin, para explorar a relação entre memória e modernidade. Benjamin identificou na obra de Baudelaire uma síntese entre elementos atemporais e históricos, mostrando como a modernidade altera a compreensão linear e homogênea do tempo. Essa melancolia modernista foi expandida por Huyssen, que observou que a globalização instiga novas práticas de memória, especialmente em comunidades descolonizadas e movimentos sociais revisionistas. Na contemporaneidade, a literatura e a arte ganham novo fôlego, reafirmando a perspectiva benjaminiana ao propor alternativas que recuperam a experiência em um mundo pós-moderno e globalizado.
O artigo Antropofagia crítica: para uma teoria queer em português destaca a conexão entre a crítica cultural proposta por Spivak e a emergência da teoria queer. Observa-se que essa teoria explora o lugar do excêntrico em contextos culturais diversos, ressignificando o papel das margens. Oswald de Andrade, ao refletir sobre a cultura brasileira, observou como a diferença foi absorvida de forma carnavalesca, invertendo hierarquias. Boaventura de Sousa Santos amplia essa discussão, sugerindo que o olhar do marginal pode desestabilizar o antigo centro. Por fim, o capítulo propõe dissolver cânones e hierarquias não para eliminá-los, mas para mitigar os dispositivos que sustentavam estruturas de poder desiguais.
A seguir, o capítulo Al Berto: poesia e experiência apresenta a escrita de Al Berto, poeta português. Lugarinho afirma que Al Berto constrói sua poética em um limiar entre intimidade confessional e apagamento de si, transitando de um romantismo tardio a um modernismo radical. Sua obra explora questões de identidade e subjetividade, marcadas pelo drama de um sujeito poético que oscila entre a existência exclusiva na escrita e o transbordamento da experiência individual. Horto do incêndio (1997) destaca-se como um testamento poético, revelando a morte anunciada do poeta. Retornando a À procura de um vento num jardim de agosto (1975), percebe-se a gênese de sua subjetividade disjuntiva. A metáfora do espelho, recorrente em sua obra, reflete a ponte entre poesia e experiência, mediando realidade e escrita.
O texto Pelo direito à ousadia: literatura, direitos humanos e estudos gays e lésbicos disserta sobre como a crise do processo de globalização reforçou a relevância dos Direitos Humanos, transcendente às formações discursivas das últimas décadas. Obras como Os Lusíadas expõem contradições humanas ao celebrar conquistas imperiais enquanto criticam a violência. Michel Foucault, em A História da Sexualidade I (1976), adquiriu uma compreensão mais ampla apenas após a emergência da epidemia de AIDS, mostrando a resistência necessária frente à homofobia. Nesse cenário, a visibilidade individual se torna central para a cidadania, questionando-se o papel da educação e do acesso ao saber como direitos humanos inalienáveis.
A seção de capítulos encerra com Rotas no Atlântico: “The sound of Kuduro” em outra Angola. A música afrodescendente, destacada na série African Pop (1989), atravessou fronteiras e impactou culturas ao redor do Atlântico. Desde a performance de Jessie Owens, que inspirou a poesia de Francisco José Tenreiro, até o rap e o hip-hop, essas expressões culturais conectaram vivências de violência e marginalidade. No Brasil, o rap dos Racionais MC’s e o funk carioca refletem o cotidiano das periferias. A imigração angolana trouxe o kuduro, que encontrou espaço no carnaval de Salvador, simbolizando a ressignificação das culturas periféricas no mundo globalizado. Desse modo, a cultura da periferia redefine o centro, rompendo fronteiras culturais tradicionais.
Em síntese, Uma nau que me carrega é uma obra que desafia o leitor a reconsiderar os fundamentos da literariedade e da produção crítica em língua portuguesa. Mário César Lugarinho constrói um diálogo rico entre literatura, história e teoria, oferecendo contribuições valiosas para os estudos literários contemporâneos. A obra é essencial para quem busca compreender as dinâmicas culturais e políticas que moldam a produção artística no Brasil e em Portugal, reafirmando a relevância do diálogo entre passado, presente e futuro, para além das convenções tradicionais.
Ficou interessado?
Para saber mais sobre a obra, entre em contato com a Editora UEA através de nossas redes sociais. Estamos sempre presentes no nosso Instagram, Twitter e Facebook!
Para conhecer as nossas publicações digitais disponíveis de forma gratuita, acesse aqui!